Estilóbata, fuste, coxim, ábaco, arquitrave, métopas e tríglifos, cornija e frontão. De baixo para cima, ao som da concertina, eis os elementos do templo dórico que Aníbal Éter, ao torresmo do sol, viu com os que a terra há-de comer. Dizem que o mármore do Monte Pentélico com que foi construído o Partenon se incendeia com reflexos de ouro à luz do amanhecer, mas o nosso intrépido turista não chegou a tempo de comprovar a veracidade de tão bela descrição. E se lhe chamo “intrépido turista”, tal não se deve a nenhuma tendência para a ironia da minha parte (que desde já afirmo ter), mas à necessidade de encontrar um termo de equilíbrio entre o turista apalermado, fase da qual o nosso personagem já tinha saído, e o seguro viajante, fase à qual o nosso personagem ainda não tinha chegado. Claro que isso o chateou, deveria ter planeado as coisas de forma a não perder a alvorada na Acrópole. Sabia que a força do impacto da primeira visualização de um monumento, de um local, ou de uma pessoa, é sempre decisiva para os caprichosos sentidos. A sensação de gostar ou não gostar de algo tão concreto como a Fontana di Trevi pode depender de pormenores tão subtis como o ângulo de aproximação na primitiva abordagem. Federico Fellini sabia disso. Aníbal Éter também mas, nesse helénico dia, descuidou-se. Acabou por se desculpar com a imprevisibilidade dos comboios gregos, empurrando a falha para terceiros. Pior do que as coisas más que acontecem a um ser humano são as coisas más que acontecem a um ser humano sem que este consiga culpar outros seres humanos. Felizmente, a falha não acarretou consequências de maior; o encanto deu-se na mesma. Talvez o Partenon, ao contrário de algumas pessoas, nunca sinta a angústia de precisar de uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão.
Os templos dóricos são despidos de partes supérfluas. Pelo menos eram estes os ensinamentos dos livros de História da Arte que Aníbal Éter metodicamente desorganizava por toda a casa com o objectivo de impressionar as esporádicas visitas. Claro que o edifício que estava à sua frente (chamemos-lhe edifício para facilitar) se encontrava despido de quase todas as partes, fossem supérfluas ou essenciais; mas isso era fruto do camartelo temporal e não de lapsos dos projectistas. Tentou imaginar o já inexistente todo, procurando redundâncias ou inutilidades. O ábaco e coxim formando o capitel; o fuste e o capitel formando a coluna; as métopas e os tríglifos formando o friso; a arquitrave, o friso e a cornija formando o entablamento; tudo isso formando a fachada. É verdade que alguns elementos, como os capitéis que encimam as colunas, pareciam servir interesses estéticos. No entanto, antes desse honroso servilismo, tinham a essencial função mecânica de transmitir aos fustes, com graciosidade, todo o peso da cobertura. Não eram, pois, dispensáveis.
Diante da monumental ruína, lembrou-se do seu lar, e concluiu que os labores construtivos não tinham sofrido mudanças tão acentuadas como se podia pensar à primeira vista. Tamanhos à parte, o que de essencial se tinha alterado entre a época de Fídias e a época de Mestre Ramiro, encarregado da empreitada da casa dos seus pais? É verdade que no tempo do Mestre Ramiro, que era também o seu, as arquitraves se chamavam vigas e as colunas eram conhecidas por pilares, mas a forma como toda a descomunal massa ia sendo descarregada do topo da cobertura até ao terreno firme da implantação era extraordinariamente semelhante. As dúvidas percorriam a cabeça do nosso “intrépido turista” com a velocidade de uma quadriga grega. Quantos anos tinha demorado aquela construção? E quantos mortos?, num tempo histórico duro, pré-higiene-e-segurança-no-trabalho. Teria o supervisor Fídias exigido aos Arquitectos responsáveis relatórios regulares? E Aspásia?, a muito polémica amante de Péricles, conhecida pelos seus cabelos de ouro e pelo seu pé arqueado. Qual a sua importância no sonho partenoniano do estadista? A fortuna por este gasta em obras públicas era reveladora da existência de momentos de alguma falta de juízo. E Aníbal Éter sabia que não existia nada como mulheres de pé arqueado para desajuizar os homens.
A problemática do tino, ou da falta dele, atormentava-o regularmente. Aníbal Éter considerava-se um atinado com azar, não por ter nascido numa nação de desatinados, mas por ter nascido numa nação de desatinados, sem a coragem necessária para se aproveitar dessa situação. Tinha a noção que num país constituído maioritariamente por desajuizados existiam duas grandes opções para aqueles que não o eram: abandonavam qualquer desígnio de irrepreensibilidade moral e tentavam retirar ganhos da falta de juízo dos outros, ou, desejando manter altos níveis de decência, aceitavam a neurose que mais tarde ou mais cedo lhes bateria à porta. Infelizmente, pensava ele, o aproveitamento pessoal da falta de juízo dos outros era, em si mesmo, um acto desajuizado, pelo que, existindo incompatibilidade entre a natureza dessa opção e a natureza da pessoa com juízo, era muito mais provável a existência de desajuizados que obtinham ganhos do juízo de terceiros do que a existência de ajuizados não neuróticos. A esta injusta incongruência dava o nome de “Paradoxo do Ajuizado sem Juízo ou: como tentei aprender a parar de me preocupar e a amar ser idiota, e falhei”.
Era também visitado, a quase toda a hora, por pensamentos relacionados com o dinheiro, mais propriamente pela problemática moral do desperdício. Educado no respeito pelas virtudes da poupança e da frugalidade, esforçava-se afincadamente para amenizar esses princípios, pois julgava-os, nesses optimistas anos do final do século, antiquados e totalmente desencontrados com o ar do tempo. No entanto, sem surpresa, o conservador que era impunha-se quase sempre ao progressista que gostaria de ser, e a continuação do passeio pela Acrópole transformou a sua mente no ringue a que já se habituara.
O combate do dia era um dos grandes clássicos: no canto esquerdo e usando calções vermelhos, a inclinação estética que cultivava; no canto direito e usando calções azuis, o utilitarismo que lhe corria no sangue. A estúpida e impertinente pergunta pairava, aos seus olhos, em todas as pedras: qual tinha sido o benefício concreto de tão colossal e dispendiosa obra? Tentou desculpar-se da mesquinhez do pensamento com algumas lendas históricas igualmente mesquinhas, nomeadamente aquelas que faziam notar a resistência dos concidadãos de Péricles ao seu projecto megalómano. Lembrava-se de ter lido acerca de uma pequena matreirice usada pelo governante para conseguir a aprovação dos atenienses: percebendo que as reticências à construção do Partenon estavam relacionadas com dinheiro, Péricles anunciou que financiaria a obra do seu bolso. Em contrapartida, seria o seu nome e não o de Atena a decorar o frontão. Espicaçados pela inveja, logo lhe autorizaram o gasto público por forma a impedir a glória privada.
“Felizes os que nasceram antes do there is no such thing as public money”, pensou Aníbal Éter em jeito de louvor às virtudes da ignorância, “mas muitos devem ter ficado com os pés de fora para que outros pudessem cobrir a cabeça”. A manta curta, sempre a parábola do dinheiro como manta curta a condicionar a sua, se assim lhe podemos chamar, moral monetária. Brincando com as palavras, podemos dizer que se consumia com as decisões de consumo! Consumição inglória e injustificada, visto que não era verdade que as mantas curtas (ou o dinheiro) só permitissem cobrir a cabeça destapando os pés ou cobrir os pés destapando a cabeça. Com criatividade e uma tesoura, era possível cortar a manta ao meio e, deixando a cintura destapada, utilizar uma das metades para cobrir os pés e a outra metade para cobrir a cabeça. Ao nosso Aníbal o que lhe faltava, verdadeiramente, era a imaginação.
PS - este texto, de estilo diferente do habitual, foi publicado originalmente no blogue http://despesadiaria.blogs.sapo.pt
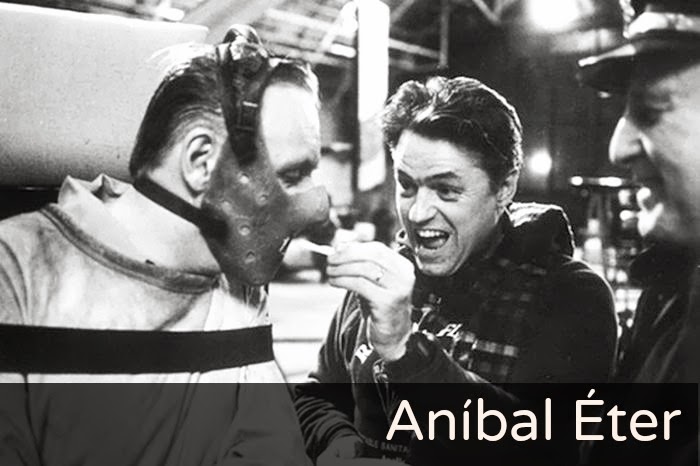

Sem comentários:
Enviar um comentário